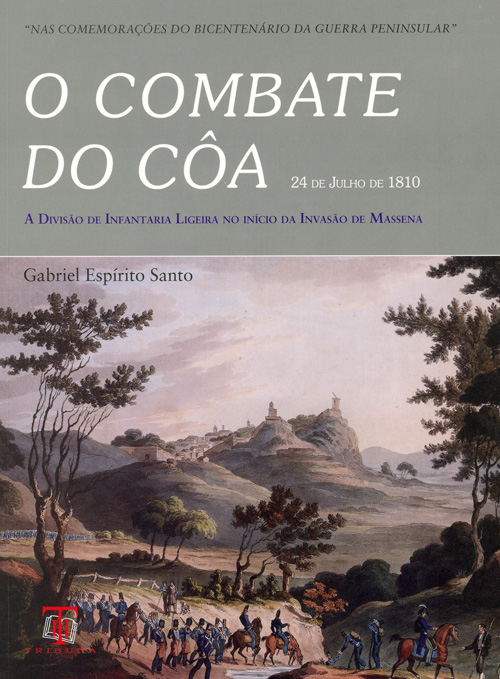O Combate do Côa - 24 de Julho de 1810
A Divisão de Infantaria Ligeira no Início da Invasão de Massena
Nesta publicação, o Senhor General Gabriel Espírito Santo reflecte sobre o papel e o empenhamento da Divisão de Infantaria Ligeira anglo-lusa, há 200 anos, no início de mais uma invasão de Portugal, pelos exércitos napoleónicos.
Com os seus vastos conhecimentos nos domínios da estratégia, o Senhor General Espírito Santo transporta-nos para o terreno das operações militares que opuseram Wellington e Masséna, na raia, entre Ciudad Rodrigo e Almeida, e enquadra os confrontos numa perspectiva global da Guerra Peninsular, sublinhando as condições do apoio logístico ao exército anglo-luso e valorizando o factor tempo, como elemento decisivo das estratégias militares, então, em oposição.
Apesar da superioridade numérica, o invasor penava em resultado das enormes dificuldades encontradas no terreno, num território privado de caminhos, com relevo acentuado e semeado de obstáculos à progressão das suas forças, geralmente acompanhadas por grandes comboios de carros e pesados trens de artilharia, entre populações hostis e acossadas pelas resistências populares.
No itinerário da Beira Alta, por onde iniciavam a incursão, com o objectivo da conquista de Lisboa, os franceses pretendiam cercar a Praça de Almeida, com os armazéns de víveres e os paióis de pólvora recheados, para lhe anular o valor estratégico, evitando que servisse como base de operações. Neste contexto, Robert Craufurd distinguiu-se no comando da Divisão Ligeira.
Este oficial inglês tinha chegado em Portugal, à frente de uma brigada, após a batalha do Vimeiro, e serviu sob o comando do general John Moore, de Outubro de 1808 a Janeiro de 1809, e, tal como toda a força expedicionária britânica, foi obrigado a embarcar e retirar para as Ilhas Britânicas após a Batalha da Corunha. Neste mesmo ano, a brigada Craufurd voltou à península Ibérica para ser integrada no Exército de Wellington, na 3ª Divisão de Infantaria cujo comandante, general Mackinder, tinha morrido na batalha de Talavera, em Julho.
Craufurd assumiu o comando da divisão e reorganizou as brigadas.
Em Fevereiro de 1810, a 3ª Divisão de Infantaria foi, de novo, reorganizada.
A brigada de Craufurd, tendo recebido os Batalhões de Caçadores Portugueses 1 e 2 (este, posteriormente, substituído pelo 3), passou a ser designada por Divisão Ligeira. No seu comando, Robert Craufurd teve a oportunidade de se evidenciar.
Nos cinco meses que antecederam o Combate do Côa, com um reforço de dois regimentos de cavalaria, protegeu a fronteira Nordeste de Portugal, mantendo a segurança do exército anglo-luso perante o exército de Massena que se preparava para invadir Portugal. Se o facto de ter travado o Combate do Côa foi, da sua parte um erro de avaliação, a forma como comandou as suas forças evidenciou a sua grande competência como comandante.
Pouco depois, na Batalha do Buçaco, teve uma intervenção decisiva para conter o ataque francês. A forma como agiu nesta batalha foi «talvez a mais gloriosa acção de Craufurd e da sua Divisão Ligeira»., valor que foi novamente posto em evidência na Batalha de Fuentes de Oñoro (5 de Maio de 1811), ao sair das posições defensivas para resgatar a 7ª Divisão que tinha ficado isolada e se encontrava quase cercada por forças francesas.
No dia 19 de Janeiro de 1812, durante o Cerco de Ciudad Rodrigo, quando se preparava para o assalto com a sua divisão, Robert Craufurd foi ferido gravemente, acabando por vir a falecer cinco dias depois.
Nas campanhas da Guerra Peninsular diferenciaram-se, genericamente, três formas de logística: a francesa, “predadora”, de aprovisionamento das tropas napoleónicas com recurso à “requisição” ou ao “saque” dos territórios conquistados ou de trânsito; a inglesa, com o estabelecimento de uma eficiente rede de depósitos de mantimentos, com aquisição e respectivo transporte pagos em numerário, em ritmo provisional que acautelava as operações futuras, num sistema supervisionado por comissários; e a portuguesa que começou por uma fase de sobrevivência nacional, tendo-se adaptado ao sistema inglês, quando os militares e as milícias nacionais se integraram no exército anglo-luso.
Muito do sucesso do exército aliado não se deveu, somente, à eficácia do sistema de apoio logístico de Wellington, que permitiu enormes vantagens sobre os franceses. No que respeitou a reforços e cargas vindos de Inglaterra, os portos portugueses desempenharam um papel importante, com destaque para o da Figueira da Foz (Lavos), que serviu de base de desembarque das forças que contribuíram para estancar a I Invasão francesa, na região do Mondego, até aos combates da Roliça e do Vimeiro; o da ria de Aveiro, cujos projectos de desassoreamento lagunar e de abertura da barra para o mar, em 1808, facilitaram a entrada de navios de munições destinadas ao Norte de Portugal, após a reconquista Porto, em Maio de 1809; e o de Lisboa, que constituiu uma importante base logística, protegida pelas Linhas de Torres Vedras, e sem a qual teria sido muito difícil empreender a contra-ofensiva aliada, em Portugal e em Espanha, que veio a culminar com a expulsão dos exércitos napoleónicos da Península Ibérica.
Destas experiências, por certo, terá resultado a valorização da logística, como factor de apoio ao combate. No entanto, a generalidade dos investigadores e historiadores deste período do séc. XIX não salienta as condições de sustentação das forças, excepto no que se relaciona com a tragédia das pilhagens e dos actos de terror praticados pelos beligerantes, mesmo quando executados pelas populações, num ambiente de “legítima defesa”, que incluíram “talar” os campos agrícolas e “queimar” as colheitas e os armazéns, para criar dificuldades ao invasor.
As conclusões do Senhor General Espírito Santo, nesta obra editada pela Tribuna da História, com o apoio da Câmara Municipal de Almeida, da Direcção de História e Cultura Militar do Exército e da Comissão Portuguesa de História Militar, constituem um paradigma inovador para a historiografia militar, actual e futura, quer pela inovação da interpretação dos factos histórico-militares quer pela integração dos mesmos factos nos domínios da estratégia e da diplomacia, tendo em conta que, em 1810, o Plano de Defesa de Portugal teve como base conceptual as operações de retardamento levadas a cabo pelo exército anglo-luso, ao longo do vale do rio Mondego, e a organização do terreno, com base na estratégia militar de lord Wellington e na concepção e emprego da Divisão Ligeira.
Para estas conclusões, o autor escalpeliza as áreas conceptuais e estruturais da força militar para encontrar o racional da organização para o combate e explica de uma forma muito eficaz as diferentes modificações que se processaram nas operações da manobra terrestre, incluindo a batalha, clarificando os motivos e as raízes das subsequentes vitórias das forças aliadas contra os exércitos de Napoleão.
Esta publicação, cuja oferta a Revista Militar agradece, passará a constituir uma referência, de assunto e de método, para os estudiosos da História Militar.
Major-general Adelino de Matos Coelho
Director-Gerente da Revista Militar
GUARITAS - Arte e Engenho
Augusto Moutinho Borges e Marín Garcia
A consolidação nacional, entre outros aspectos, também passou pela demarcação de presença e de ocupação do espaço, materializada em monumentais infra-estruturas fortificadas - castelos, fortalezas e fortins - cuja funcionalidade, enquanto sinal de poder e pólo disciplinador da ocupação populacional e da organização de sociedades, contribuiu para a defesa e para o enquadramento da malha territorial.
A fortificação permanente, quando construída em tempo de paz, com largueza de tempo e abundância de meios foi susceptível de resistir aos mais poderosos meios de ataque e também às acções da manobra ofensiva.
Apesar de, há muito tempo, as fortificações terem perdido a sua função militar, elas dão-nos conta da evolução das práticas de defesa e da sociabilidade que instauraram desde os recintos castrejos, passando pela introdução de técnicas inovadoras de defesa passiva, através da construção dos chamados castelos “românicos” (na sua maior parte templários), à edificação de estruturas defensivas de fronteira, a par de outras em que, ao contexto militar, se aditam representações de poder.
As fortificações foram sempre construídas em locais de importância estratégica absoluta e constante, com reconhecido valor militar e tendo em mira o condicionamento de operações futuras.
No Tratado de Arte Militar, elaborado entre finais do séc. IV e meados do séc. V, a partir dos escritos dos principais estrategas militares romanos, Flávio Vegécio Renato, menciona “que as cidades e as fortalezas devem ser protegidas pela natureza ou pela mão humana, ou por ambas, o que se considera mais seguro”. No que concerne a segurança, Vegécio explica: “Pela natureza dos lugares, entenda-se por via de um lugar elevado ou íngreme, rodeado de mar, de pântanos ou de rios; pela mão humana, através de fossos ou de muralhas. Nesses lugares muito seguros devido às vantagens naturais, requer-se a sabedoria de uma boa escolha; nos lugares planos, exige-se esforço ao fundador. Vemos cidades antiquíssimas construídas em planícies abertas de uma tal maneira que, apesar da falta de uma protecção natural, foram tornadas invencíveis graças ao engenho e ao trabalho”.
Noutra parte do Tratado e ainda no domínio da segurança das infra-estruturas, Flávio Vegécio alerta para a importância de observar as características da construção das fortificações: “Os antigos não quiseram desenhar o traçado dos muros a direito para que eles não estivessem expostos aos golpes dos aríetes, mas fecharam as cidades com os alicerces inscritos em curvas sinuosas e dispuseram um maior número de torres nos próprios ângulos porque se alguém quiser aproximar escadas, ou máquinas, de uma muralha, com uma tal configuração, não só é apertado pela frente mas também dos lados e até pelas costas, sendo como que esmagado num abraço”.
A chamada Fortificação Moderna resultou do desenvolvimento das descobertas do século XVI, com a utilização da pólvora e o aperfeiçoamento da precisão do tiro, factos que motivaram, à época, uma “revolução dos assuntos militares”. Com os avanços da artilharia, que na década de 1450 já estava dotada de uma considerável potência destrutiva, os altos muros medievais sucumbiram ao fogo inimigo, tendo-se observado a necessidade de “engrossar” as muralhas.
Com o aperfeiçoamento da construção fortificada, em especial com a utilização das armas de fogo, a arquitectura militar passou a prever igualmente a existência de guaritas, pequenas torres com frestas ou seteiras, geralmente erguidas nos ângulos mais salientes dos baluartes, com a função de proteger as sentinelas que tinham por missão “vigiar” os espaços, cada vez mais, à frente da muralha.
A evolução dos meios ofensivos conduziu à perda do valor estratégico das fortificações. Séculos volvidos, quase a terminar a primeira década do século XXI, Augusto Moutinho Borges e Marín Garcia recordam-nos a funcionalidade defensiva das fortificações militares, numa publicação didáctica, de leitura agradável, em que o elemento destacado é a “guarita”, na sua perspectiva histórica, na evolução ao longo dos tempos, nas formas de construção e nos modelos existentes.
Numa representação artística, Marín delicia-nos com a finura dos seus desenhos a nanquim, relativos a guaritas da raia luso-espanhola e Augusto surpreende-nos com a qualidade fotográfica das guaritas dos fortes da linha defensiva do rio Tejo, desde a Torre de Belém até ao Guincho.
“Guaritas, Arte e Engenho” contém um discurso literário e uma composição gráfica que nos transportam, por um lado, ao tempo das Guerras da Aclamação e, por outro, aos métodos de projecção e às práticas de construção das muralhas, no sistema abaluartado, por engenheiros militares e mestres de construção fortificada.
O Exército, através da Direcção de História e Cultura Militar, associou-se à publicação desta obra que, além do mais, garante um notável contributo para a formação cívica nacional, nos domínios da História de Portugal.
Agradece-se à editora By The Book a oferta à Biblioteca da Revista Militar.
Major-general Adelino de Matos Coelho
Director-Gerente da Revista Militar